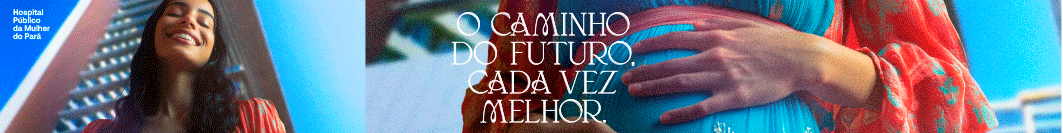Foto: Reprodução/CNN Brasil (22.abr.2021)
Por João Claudio Tupinambá Arroyo
Com o auxílio luxuoso de Cassiano Ribeiro
Outro dia, vendo uma reportagem sobre as questões ambientais no Fantástico, depois de assistir bichinhos ameaçados de extinção, cenários paradisíacos que podem deixar de existir pelo desequilíbrio climático, fiquei pensando, se esta abordagem informa ou desinforma. É claro que, se formos eticamente inteligentes, não podemos permitir a extinção de qualquer espécie ou cenário natural, mas o impacto do desequilíbrio climático crescente está a ameaçar a nossa própria vida. E, antes disso, a qualidade com que vivemos e o custo econômico disso. Mas não vimos nenhuma referência à irracionalidade da lógica da eficiência que hoje orienta os investimentos públicos e privados, no Brasil e no mundo.
Por exemplo, sobre a origem do Coronavirus tem fakenews para todos os lados, mas o debate científico converge para causas ambientais. Já se sabe que a Zica, a Dengue e a Chicungunha, que são arbovírus, e também geram epidemias, são produtos de desequilíbrio ambiental que afeta primeiro os artrópodes(centopéias, aranhas, borboletas etc) e, na busca do vírus por outras possibilidades de equilíbrio, alcança os seres humanos onde geram patologias, doenças, grandes prejuízos(mas para alguns grandes negócios) e morte.
Não é de hoje que escutamos falar das questões ambientais e os efeitos negativos sobre a Sociedade, pelo mau trato dos recursos do planeta: aquecimento global, aumento do nível de oceanos, furacões, secas, chuvas ácidas, doenças, entre outras mazelas provocadas por esse descuido(ou projeto?). Ora, é irracional insistir em um modelo de desenvolvimento em que a velocidade de exploração dos recursos naturais está muito acima da produção de conhecimento científico sobre a natureza e o ambiente. A probabilidade de estarmos esgotando fontes naturais sem nem saber o que estamos perdendo, é significativa.
Discutir as questões ambientais é, basicamente, pensar na sobrevivência das espécies, o que nos inclui. Sem vida não há mais nada, nem economia nem Sociedade sequer. O que quer dizer que, além da sobrevivência, pensar a questão ambiental também é pensar na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no “bolso”, no custo de viver com qualidade. Pensar no ambiental também é refletir sobre o trade-off econômico, as escolhas que temos que fazer ao consumir e ao investir.
Especialistas calculam que os custos iniciais de recuperação da maior tragédia ambiental do país dos últimos anos, Brumadinho, envolvam cifras que giram em torno de US$ 5 bilhões – cinco bilhões de dólares – a serem desembolsados pela Vale. Ora, a negligência com as medidas ambientais que poderiam evitar a tragédia, na verdade foi um esforço de redução de custos para aumentar a margem de lucro e agradar acionistas. Agora, são custos que pesarão muito mais sobre a margem de lucro, e os acionistas não sumiram, o que quer dizer que a tal redução de custos não foi nada inteligente. Recursos que poderiam estar sendo empregados em investimentos ambientais adequados, agregando mais valor ao negócio, gerando emprego e renda em novas áreas.
Dados das maiores seguradoras do mundo estimaram que em 2018, dez eventos climáticos (furacões, geadas e secas atípicas) geraram um prejuízo de pelo menos US$ 1 bilhão ocasionados pela emissão desenfreada de 32 milhões de toneladas de CO², desrespeitando completamente as metas do Acordo de Paris.
E por falar em Acordo de Paris, está previsto para o segundo semestre de 2021 o seu Encontro de Cúpula que deverá reunir as maiores lideranças globais do mundo político e científico, para discutirem uma revisão de metas, propor indicadores, novos prazos e instrumentos, de maneira a encontrar soluções para as questões ambientais que assolam a economia. Será que vamos passar vergonha de novo, como passamos semana passada, na Cúpula do Clima organizada pelos EUA?
As negociações do Acordo de Paris foram firmadas em 2015, já em 2017 mais de 192 nações haviam assinado ou ratificado o acordo, inclusive o Brasil. Os principais pontos estabelecidos estão relacionados aos esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5ºC; recomendações quanto à adaptação dos países signatários às mudanças climáticas, em especial para os países menos desenvolvidos, de modo a reduzir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos; estimular o suporte financeiro e tecnológico por parte dos países desenvolvidos para ampliar as ações que levem ao cumprimento das metas para os países menos desenvolvidos; promover o desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia e capacitação para adaptação às mudanças climáticas; proporcionar a cooperação entre a sociedade civil, o setor privado, instituições financeiras, cidades, comunidades e povos indígenas para ampliar e fortalecer ações de mitigação do aquecimento global.
E o desenvolvimento econômico com isso?
Em que pese os retrocessos ocasionados pela política externa brasileira(terraplanista e negacionista) dos últimos anos e uma tentativa de desqualificar o Acordo de Paris num alinhamento espúrio e inadvertido do Brasil com Donald Trump, o Brasil, em particular pela Amazônia, ainda é visto como peça-chave nas novas discussões em torno das revisões das metas climáticas e isso deveria ser encarado seriamente, como grande oportunidade econômica, pelas autoridades brasileiras, universidades, empresariado e sociedade civil para que tenhamos propostas concretas e sejamos devidamente compensados por um engajamento ambiental sério e estruturado em torno de um novo modelo de desenvolvimento econômico sustentável.
Desde os acordos de Kyoto, algumas tentativas não tiveram os efeitos esperados tais como negociações de créditos na bolsa de carbono, os mecanismos de REDD(Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação), e acordos voluntários em escalas muito reduzidas. O Governo do Pará sai na frente ao apresentar o Plano Ambiental Amazônia Agora, mas deveria focar numa proposta mais ousada, inclusive com mobilização social, que defina critérios de remuneração e mecanismos transparentes de compensações por serviços ecossistêmicos a ser apresentado nas propostas brasileiras a essa nova rodada do Acordo de Paris, deixando claro os papéis dos diversos sujeitos socioeconômicos.
Para entendermos bem o que seria isso, recorremos a um exemplo bem didático, não é de hoje que vemos filmes norte-americanos ambientados em Nova York onde os atores pegam seus copos e tomam água da torneira, algo improvável para nós. Ocorre que nos anos 80 uma crise hídrica ameaçou aquela megacidade afetada pela poluição e consumo sem consciência, uma parte do problema situava-se nos mananciais que abastecem a cidade e encontram-se a 160 Km de distância, advindas de nascentes de áreas rurais no entorno do Rio Hudson, tal área é permeada de fazendas que também se abasteciam desses mananciais para irrigação e suas criações animais. O uso sem uma regulação chegou a ameaçar o abastecimento de 9 milhões de pessoas e foi superado graças a um acordo climático entre a prefeitura de Nova York e os proprietários rurais(fazendeiros), para que os mesmos, passassem a preservar essas fontes e adequassem suas produções. Estima-se que esse acordo girou em torno de US$ 1,4 bilhões. Parece uma cifra muito alta, mas quando comparada aos investimentos em unidades de tratamento e o custo de manutenção desses equipamentos, têm-se uma economia hoje estimada em US$ 8 bilhões mais o custo anual de US$ 300 milhões em manutenção, este é um “caso de sucesso” de pagamento social, democrático, por serviços ecossistêmicos.
Isto demonstra com grande eloquência que o ambiente se constitui em um ativo econômico sistêmico fundamental, que precisa ser incorporado às estratégias de governança, como base de qualquer modelo de desenvolvimento sustentável. Mas é preciso ter olhos para enxergar o meio ambiente com esta propriedade. É preciso ter inteligência sistêmica para entender novos parâmetros de eficiência para os investimentos. É preciso desenvolver uma nova ética.
Imagine. Imagine o Pará articulando na Cúpula do Acordo de Paris um Fundo de mobilização social, científica, financeira e produtiva para a conversão sustentável dos setores tradicionais que mais devastam a Amazônia: Madeira, Gado, Grão e Mineração. Setores responsáveis por mais de 90% das exportações mas, por menos de 50% do PIB estadual – o setor serviço sozinho gera cerca de 40% do PIB do estado sem política de suporte e expansão, justamente o setor, que junto com as pequenas e micro empresas geram mais de 90% dos postos de trabalho, principal contribuição a renda circulante e ao consumo de varejo, no mercado paraense.
Imagine o dinamismo que essa reorientação pode proporcionar se articulada à estratégias de apoio aos investimentos em bioeconomia, inclusive reforçando a gestão econômica de assentamentos, reservas extrativistas, quilombos, comunidades ribeirinhas, terras indígenas, sintonizando com toda a sabedoria econômica gratuita que herdamos e precisamos respeitar e entender para nos colocar na ponta da inovação sustentável mundial. Imagine.