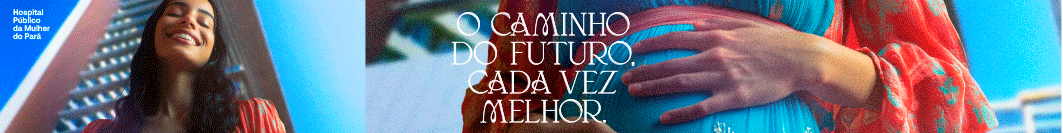Foto: Reprodução
Por João Claudio Tupinambá Arroyo
Muito antes dos cientistas, os povos originais da Amazônia e as erveiras do Ver-O-Peso, em Belém, sabem que a floresta em pé gera muito mais riquezas e resolvem qualquer problema: desenvolvimento econômico, fome, inflamação, inhaca, espinhela caída, mau olhado, broxisse, cachiblema e muito mais. Ou seja, a gigantesca riqueza que a floresta produz não é só aquela que pode ser monetizada e tem preço, mas também a que gera sentido existencial, identidade cultural e, sobretudo, valor. Nossa história recente tem dito que não temos sido capazes de entender a imensa riqueza que temos nas mãos e em nossas cabeças. Mas há bons sinais.
O superespecialista sênior Carlos Nobre, que dedicou a vida a entender o potencial da biodiversidade na perspectiva da sustentabilidade tem dito que nosso maior obstáculo a entrar no “primeiro mundo” é nossa falta de imaginação. Como me explicaram uma vez, Imaginação é Imagem + Ação. Ou seja, se ver na situação desejada e agir para que isso se transforme em realidade. Mas é preciso entender que “agir” não é uma decisão apenas racional, é uma posição psicológica, uma identidade, uma realização afetiva, por isso economia, educação e cultura são inseparáveis.
No caso, seria se ver como país de primeiro mundo e agir como tal. Primeiro, precisamos de soberania, de autonomia sobretudo de conhecimento – que começa na educação – energia e infraestrutura. A questão do petróleo é chave, assim como a restrição em desenvolver nossa indústria e serviços para priorizar a produção de commodities, com baixo valor agregado. Segundo, precisamos deixar de achar que o que é de fora é sempre melhor, que um dia vem alguém de fora nos salvar, porque não vem, apenas para extrair o que temos e nem reconhecemos. E, terceiro, que será com base no conhecimento de nossas próprias possibilidades que poderemos criar novos caminhos e tecnologias e vender para o mundo.
Para quem segue a tradição do pensamento colonizado e não acredita nisso, Carlos Nobre oferece um exemplo concreto. “Vejam o que está acontecendo com o açaí”. Temos ainda a maior produção, dominamos a tecnologia e vendemos para o mundo inteiro. Mas se não nos organizarmos social e empresarialmente, se não pesquisarmos o açaí mais profundamente, se não implementarmos novas tecnologias e novos produtos, podemos ser ultrapassados como fomos com a borracha natural. E propõe: “precisamos de uma Embrapa da biodiversidade”. Criada em 1973, a Embrapa é uma das iniciativas centrais responsáveis por fazer do Brasil a potência agrícola mundial que somos hoje, provando que sem ciência não há solução. Imagine 3 mil doutores e mais de 10 mil servidores trabalhando para conhecer a biodiversidade da Amazônia, como foi feito com a agricultura.
Ora, sem qualquer apoio importante, o Açaí gera 1,8 bilhões/ano na Amazônia, só da polpa do fruto. Com todo o apoio do Estado o setor da carne gera 5 bi e o da madeira 2 bi. Só o Açaí, seu fruto e palmeira, ainda geram produtos do caroço, do palmito e fibra. Agora imagine se tivesse apoio tecnológico, jurídico e de crédito para Andiroba, Copaíba, Bacuri, frutas em geral, aves, peixes, insetos, raízes etc que nem foram catalogados ainda. Só de madeiras catalogadas temos 16 mil espécies e comercializamos pouco mais de 10 tipos. Sem pesquisa e autonomia tecnológica não inovamos a oferta e ficamos na dependência das demandas que vêm de fora. O melhor é que todos estes produtos precisam que a floresta fique em pé, mantendo seus serviços ambientais. Para produzir carne e madeira, não necessariamente, mas se enquadradas em escala e dimensão talvez possam compor consórcios com manejo e sem desmatamento.
O problema mais conhecido desta falta de autonomia e soberania para definir o modelo de desenvolvimento da Amazônia, é o ambiental/econômico. De fato, já há um razoável consenso na comunidade científica, que as determinantes econômicas e tecnológicas que estão na base do modelo atual dão suporte prioritário para o extrativismo(madeira, 80% ilegal), pecuária e agricultura extensivas, que geram a perigosa combinação entre desmatamento, incêndio florestal e aquecimento global que podem transformar a floresta radicalmente nos próximos 50 anos, de maneira irreversível. A estimativa é que dos 4 milhões de km2 da Amazônia, quase 20%(750 mil km2) já estejam devastados e a partir de 30% podemos ultrapassar o ponto de não retorno às condições ambientais originais do bioma afetando o ciclo hidrológico mundial o que alteraria as bases da economia no mundo todo.
Diante desta questão, se fortaleceu na ciência a abordagem transdisciplinar que se tornou conhecida como Economia Ecológica, que para pesquisadores referência como Robert Constanza, consiste no surgimento de uma nova ciência, com uma nova abordagem holística e novas ferramentas para compreender a realidade. Mais ou menos ao mesmo tempo, nos fóruns multilaterais, como a ONU, com a importante participação de representantes empresariais, se tornou frequente o termo Bioeconomia. Registrando aí uma aproximação entre comunidade científica e empresarial em torno do consenso de que a floresta em pé é a melhor solução ambiental/econômica para a Amazônia e regiões correlatas no planeta.
No entanto, há claras diferenças de abordagem que se desdobram em diferenças de estratégia operacional em como converter a floresta em pé em valor e riqueza. Aqui e ali é possível identificar até uma certa disputa de significado da Bioeconomia, que revela uma disputa de modelo de desenvolvimento e de projeto de Sociedade que queremos.
Nos documentos oficiais das entidades empresariais da indústria(CNI, SESI SENAI, IEL) encontramos que “Bioeconomia é a ciência que estuda os sistemas biológicos e recursos naturais aliados a utilização de novas tecnologias com propósitos de criar produtos e serviços mais sustentáveis. A bioeconomia está presente na produção de vacinas, enzimas industriais, novas variedades vegetais, biocombustíveis, cosméticos entre outros…Ela surge como resultado de uma revolução de inovações aplicadas no campo das ciências biológicas. Está diretamente ligada ao desenvolvimento e ao uso de produtos e processos biológicos nas áreas da saúde humana, da produtividade agrícola e da pecuária, bem como da biotecnologia. Envolve, por isso, vários segmentos industriais.” Onde é possível entender que a percepção dos elementos naturais limitada a ideia de matéria prima, com o foco em cadeia produtiva e apresentando como maior inovação a tecnologia oriunda da biologia.
Na abordagem da Economia Ecológica, se trata de “um campo de estudo transdisciplinar que enxerga a economia como um subsistema de um ecossistema global maior e finito. Economistas ecológicas questionam a sustentabilidade da economia pelos seus impactos ambientais, seus requisitos materiais e energéticos e também pela expansão demográfica(social). Esforços para atribuir valores monetários a serviços e perdas ambientais, corrigindo assim a contabilidade macroeconômica, fazem parte da economia ecológica, mas sua orientação principal é mais no sentido de introduzir indicadores e índices físicos da sustentabilidade. Economistas ecológicas também trabalham com as relações entre direitos de propriedade e a gestão de recursos; modelam as interações entre a economia e o meio ambiente; estudam conflitos ecológicos distributivos; usam ferramentas de gestão como avaliação ambiental estratégica e processos decisórios multi-critério; e propõem novos instrumentos de políticas ambientais.”(José Martinez Alier)
Ou seja, uma ênfase se dirige à produção, a outra à sustentabilidade. Uma enfatiza o desafio tecnológico, a outra enfatiza a governança entre sistemas e subsistemas que devem atender, ao mesmo tempo, os parâmetros de sustentabilidade: econômico, ambiental e social, tal como definido no Relatório Brundtland de 1987, que orientou os acordos internacionais após a grande conferência da ONU Rio92.
Na prática, para diferenciar a ênfase na produção e na sustentabilidade, propomos aqui refletir nosso modelo atual, sobre o caso do extrativismo da madeira. Quando a visão econômica está limitada ao produtivismo, o foco é a Cadeia Produtiva onde a madeira é percebida apenas como insumo, como matéria prima. Logo, se a meta é produzir o máximo com o menor custo, o agente que dirige este processo produtivo está centrado em extrair o máximo de madeira, reduzindo o custo até mesmo para além da legalidade. Esta atividade, no entanto, não se estrutura apenas nos estritos marcos econômicos. Ao buscar suportes legais para baixar custos interage e determina sobre a política e os políticos, ao estabelecer um determinado procedimento na relação com a “mão de obra”, que na verdade são pessoas que, na maioria, também vivem na e da floresta, estabelecem impactos sociais e culturais importantes. A sinergia entre estes impactos políticos e sociais envolvem enfim impactos ambientais e econômicos que definem os termos do Modelo de Desenvolvimento da Amazônia, ao interagir com as demais atividades econômicas na região.
Claramente, se por um lado, a dinâmica econômica, política e social da atividade madeireira interage positivamente para atividades como a pecuária e a grande agricultura, que precisam de grandes áreas desmatadas e sem resistência política e social. Por outro lado, são gravemente prejudicadas as iniciativas e atividades econômicas que precisam da floresta em pé, bem como eliminam as possibilidades de comunidades protagonizarem processos produtivos autônomos. Não por acaso somos a região com mais morte no campo por conflitos agrários e agrícolas.
Por fim, se o consenso de que a melhor opção para a Amazônia, é a Floresta em pé, não só como banco de matérias primas, mas como ambiente socioambiental, já é um avanço importante, é preciso avançar ainda mais na direção de estabelecer índices e indicadores de Sustentabilidade. Sem consensuar os termos de uma governança do Modelo de Desenvolvimento, com base na articulação dos elementos econômicos, ambientais e sociais da Amazônia, não alcançaremos as condições políticas para a conquista da autonomia, da soberania e da riqueza que precisamos. Não precisamos de mais uma Moda, precisamos de Mudança.